Três semanas na Venezuela: Diário de uma carioca na República Bolivariana - Parte 1
O avião era antigo e mal iluminado. Todos os passageiros se assemelhavam pela simplicidade das roupas e acessórios. Não vi ninguém ostentando joias, mochilas caras ou tênis de marca. Os celulares também eram bem simples. A maioria carregava um modelo antigo, tipo Nokia, os tijolinhos. A sensação era de estar embarcando numa viagem no tempo, rumo à década de 80 ou 90.
Ao desembarcar, no aeroporto internacional Simón Bolívar, em Caracas, os saguões semivazios e silenciosos em plena manhã de uma quinta-feira delatavam a economia desaquecida do país. Eu estava apreensiva para atravessar a imigração, já que meu companheiro de viagem havia ficado detido no aeroporto por várias horas. Ele disse que estava a trabalho, mas, como não tinha o visto de trabalho, não o deixaram entrar. Foi uma encrenca. Ele teve que acionar os diretores do jornal e, estes, autoridades da Venezuela para conseguir passar. Eu disse que estava a turismo e não tive qualquer problema. O oficial foi bem simpático. Na fila havia também muitos orientais (chineses ou coreanos). Passada a imigração e a alfândega, chamava a atenção uma enorme fila de passageiros sentados no chão, na porta do embarque internacional. Tratava-se de um voo para Miami e, pela forma como as pessoas estavam estiradas sobre suas malas, provavelmente estava bastante atrasado.
A busca de um táxi no aeroporto foi o primeiro desafio em solo. Como no Brasil, ou você paga uma tarifa exorbitante nos guichês oficiais, ou fica submetido a uma máfia de motoristas que se aproximam como moscas em cima de doce, tentando convencê-lo de que são honestos e confiáveis. Para conseguir despachá-los, tive que ser direta e quase grosseira. Fugindo da máfia, segui para o setor de embarque na esperança de encontrar um táxi que estivesse deixando um passageiro. O difícil é conseguir reconhecer um táxi. Vi se aproximarem carros caindo aos pedaços, das mais diferentes cores, sinalizados mambembemente com um adesivo de táxi. Nada confiáveis. Voltei e resolvi pedir ajuda a um funcionário uniformizado do aeroporto, que me levou imediatamente de volta à “máfia-mosca”. Não teve saída. Me senti o almoço do dia. Escolhi o motorista que me pareceu mais confiável, combinei com ele um preço em dólar (US$ 25, o que, descobriria depois, é uma fortuna na Venezuela) e seguimos. O carro estava estacionado a uns 150 metros da entrada do aeroporto e lá fomos nós, a pé, puxando a mala. Era um 4x4 grande, preto, de vidros escuros, novo e em perfeito estado.
O aeroporto fica a cerca de 20 km de Caracas. Na rodovia, a paisagem é bonita, de um lado pode se ver o mar e do outro o continente. Perguntei ao motorista quanto tempo levaríamos até a cidade. Ele me respondeu que, se déssemos sorte, chegaríamos em meia hora. Mas dependia, porque às vezes os protestos fechavam as ruas e o trânsito ficava bem complicado.
Percebemos que nos aproximamos de Caracas quando começam a surgir as favelas, ou “ranchos”, como eles falam. Como no Rio, construções precárias amontoam-se em encostas íngremes, em comunidades densamente povoadas que não devem nada aos morros cariocas. Na periferia de Caracas, já se revela o histórico nível de desigualdade de renda entre ricos e pobres do país. Me senti em casa.
Um pouco à frente, o trânsito começou a piorar. O motorista disse que provavelmente eram os protestos. Passamos por alguns camburões e policiais fortemente armados, mas logo o tráfego voltou a fluir. Já numa zona mais urbanizada, o táxi saiu da via principal e foi metendo-se por ruas arborizadas, com boas casas e edifícios de luxo. Entramos em Chacao, um dos cinco municípios que formam o distrito metropolitano de Caracas.
Estranhei o movimento normal nas ruas. Esperava encontrar uma cidade em caos, com filas pelas calçadas, mercados lotados, muita polícia, enfim, a capital de um país à beira de uma guerra civil. Pelo menos era o que pintava a mídia internacional. Mas, na chegada, o que vi foi uma cidade normal, vivendo um dia qualquer. Um fluxo de carros e pessoas nas ruas aparentemente comum para uma grande cidade latino-americana.
Minutos depois, já estávamos no Hotel Pestana, administrado pela famosa rede portuguesa. Ali encontrei meu companheiro de viagem, Norman, vindo da Espanha, com quem iria tentar destrinchar o que se passava na Venezuela. Subi para deixar a mala no meu quarto e aproveitei para conferir se havia papel higiênico (por via das dúvidas, tinha levado um rolo na bagagem), sabonete e shampoo, cuja falta os jornais tantas vezes alardeavam. Estava tudo ali, como manda o figurino.
É impossível começar a falar de Venezuela sem levar em conta a complicada questão do câmbio. Só dentro do país para entender e poder lidar melhor com os fardos e fardos de notas que recebemos ao trocar dinheiro. Na Venezuela, não dá para usar carteira, é melhor guardar o dinheiro em sacos. Por isso, a maioria das pessoas só usa cartão de crédito ou débito. Mas, para um estrangeiro, o câmbio oficial pode tornar a viagem tão cara quanto umas férias de Sérgio Cabral em Paris. A saída é pagar em dinheiro vivo. A boa notícia é que os maiores estabelecimentos comerciais têm máquina de contar notas, como nos bancos. Sem elas, a vida complica. Na primeira vez que trocamos 300 dólares, gastei mais de meia hora para contar e separar todas as notas que chegaram dentro de uma caixa de papelão cheia. Uma provisão de elásticos de borracha também é imprescindível.
Entender a questão do câmbio na Venezuela é coisa para economista PHD. Nos últimos anos, o governo vem mudando constantemente as regras, estabelecendo taxas diferentes para importação de alimentos, medicamentos, transações de petróleo, importação de bens gerais, turismo... Os valores oficiais divulgados pelo banco central são considerados por muitos – principalmente pela oposição – irreais, superfaturados. Aí entra o câmbio negro e a misteriosa página de internet Dólar Today. Dizem que o governo pune com penas duras quem pratica o câmbio ilegal, entretanto, isso é prática comum entre taxistas e funcionários de hotel, por exemplo. E todos se baseiam no obscuro Dólar Today, cuja sede parece estar em Miami (não há um mísero telefone ou endereço na página), aparentemente controlado por um opositor da política do governo. É essa página que estabelece a cotação diária para o câmbio negro na Venezuela. Quando estávamos lá, pelo Dólar Today, a cotação situava-se em torno de 5.000 bolívares por dólar. Na rua, entretanto, os cambistas pagavam 2.500, 3.000. Mas, com base em quê a página estabelece o valor do Bolívar venezuelano? “Eles dizem que a cotação se baseia nas casas de câmbio da fronteira com a Colômbia, mas isso é mentira. Ninguém aqui vende pelo preço do Dólar Today. Querem desestabilizar a economia venezuelana”, contou Julio Vélez Trillos, dono de várias casas de câmbio em Cúcuta, cidade colombiana que faz fronteira com a Venezuela. Seja como for, o fato é que lidar com a moeda venezuelana é um fardo. Em todos os sentidos.
 Soube pelo meu companheiro de viagem que um dos locais onde ocorriam protestos, por acaso, era muito perto do hotel, na Praça Altamira, a cinco minutos a pé. Estava curiosa para chegar ao local. E foi o primeiro que fizemos. Pelo caminho, as pessoas transitavam normalmente. Ao nos acercarmos, notamos que o trânsito de carros estava impedido. Na praça, alguns grupos de jovens conversavam sentados à sombra de frondosas árvores. Havia a presença de policiais, que também conversavam tranquilamente. Nada lembrava as cenas de violência e enfrentamento que eu havia visto pelos jornais. Apreensivos pelos alertas de jornalistas estrangeiros, resolvemos não dar na pinta de que éramos forasteiros e cruzamos a praça sem chamar a atenção. Subindo a rua, avistamos uma padaria e entramos. De fato, as prateleiras estavam um pouco desabastecidas e, o balcão de pão, vazio. Não havia pão de sal, apenas pão doce, biscoitos, roscas... Poucos cartazes de propaganda, mas refrigerantes, sucos, sorvetes, chocolates e o que normalmente se encontra em uma padaria. Menos pão de sal. o fosse ainda sete horas da noite.nossem ainda sto na entrada da cidade. A fome estava is.tambo estado. No caminho,Ali SondaPerguntei sobre os protestos na área e o atendente me disse que as passeatas têm hora para começar. As pessoas são convocadas pelas redes sociais e o local é um dos pontos centrais de onde partem as caravanas.
Soube pelo meu companheiro de viagem que um dos locais onde ocorriam protestos, por acaso, era muito perto do hotel, na Praça Altamira, a cinco minutos a pé. Estava curiosa para chegar ao local. E foi o primeiro que fizemos. Pelo caminho, as pessoas transitavam normalmente. Ao nos acercarmos, notamos que o trânsito de carros estava impedido. Na praça, alguns grupos de jovens conversavam sentados à sombra de frondosas árvores. Havia a presença de policiais, que também conversavam tranquilamente. Nada lembrava as cenas de violência e enfrentamento que eu havia visto pelos jornais. Apreensivos pelos alertas de jornalistas estrangeiros, resolvemos não dar na pinta de que éramos forasteiros e cruzamos a praça sem chamar a atenção. Subindo a rua, avistamos uma padaria e entramos. De fato, as prateleiras estavam um pouco desabastecidas e, o balcão de pão, vazio. Não havia pão de sal, apenas pão doce, biscoitos, roscas... Poucos cartazes de propaganda, mas refrigerantes, sucos, sorvetes, chocolates e o que normalmente se encontra em uma padaria. Menos pão de sal. o fosse ainda sete horas da noite.nossem ainda sto na entrada da cidade. A fome estava is.tambo estado. No caminho,Ali SondaPerguntei sobre os protestos na área e o atendente me disse que as passeatas têm hora para começar. As pessoas são convocadas pelas redes sociais e o local é um dos pontos centrais de onde partem as caravanas.
Seguimos caminhando para conhecer a região. Altamira é um bairro residencial, de classe média alta. Fora da avenida principal, de altos e modernos prédios comerciais, encontramos ruas calmas e arborizadas, com muitas casas onde funcionam restaurantes ou lojas de decoração. Embora não fossem ainda sete horas da noite, como a fome apertava, decidimos jantar. Entramos em um casarão da década de 50 ou 40, transformado em elegante restaurante, já um pouco decadente e parado no tempo. Garçons bastante simpáticos se acercaram da mesa e trouxeram o cardápio. Como tínhamos poucos bolívares na mochila, pensamos em pedir os pratos mais baratos, o que no Brasil seria normalmente uma massa. Outra surpresa. Massas eram mais caras do que peixe ou de carne. Optei, então, por um delicioso filé com molho de pimenta, que foi caprichosamente preparado ao lado da mesa pelo garçom. Meu companheiro optou por peixe, mero. A conta saiu por cerca de 50 mil bolívares, o equivalente a 20 dólares. Ao pagar, iniciamos uma conversa com o garçom, que nos deu seu triste relato da situação da Venezuela. Sua mãe seria operada no dia seguinte. Diabética, teria que amputar a perna. “Não há antibiótico e não temos como sair do país para o tratamento. É muito caro”, disse, indignado. Depois do jantar, voltamos de táxi ao hotel, já que a recomendação geral era que evitássemos sair à noite, pois a cidade era muito perigosa. “As pessoas passam em motocicletas e te roubam”, contou o taxista. Outro perigo são as facadas. Nada do que um carioca não esteja acostumado.
Cansada, tirei o dia seguinte para trabalhar no hotel e dormir um pouco. No sábado, resolvemos ir a uma zona popular da cidade e ver como estavam os ânimos por lá. Escolhemos Cátia, bairro de classe trabalhadora, densamente povoado, com tradição de ser chavista. Tomamos o metrô, cuja passagem custava apenas 4 bolívares (cerca de R$ 0,001) – era tão barato que custei a acreditar que estava escutando direito. Os trens eram talvez um pouco mais simples do que os do Rio, mas em ótimo estado. Já os passageiros eram visivelmente mais pobres do que as pessoas que circulavam na praça dos protestos, no bairro de classe média alta.
Saltamos na estação de Cátia e demos de cara com um belo parque público, o "Alí Primera" (nome de um mítico cantor venezuelano de esquerda), construído no terreno de um extinto presídio. Logo na entrada, nos deparamos com um baile da terceira idade, com dezenas de casais dançando salsa, enquanto outras dezenas assistiam sentadas em cadeiras de plástico, num improvisado salão montado na portaria. Os compenetrados bailarinos não faziam caso ao forte calor de verão que empapava as roupas. Logo à frente, crianças farreavam em trajes de banho com jatos de água que subiam do chão, num moderno chafariz, cujos jorros variavam de intensidade conforme uma música. Ao lado, um tobogã inflável, com entrada gratuita, atraía outra parte da meninada.
No horizonte, bem em frente, via-se o famoso “23 de Janeiro”, imenso conjunto habitacional, que leva o nome de outro bairro popular. Encravada em colinas, a paróquia 23 de Janeiro é famosa por ser a mais politizada da capital. Ali teve início o Caracaço, uma das mais emblemáticas explosões populares espontâneas da Venezuela. Em 1989, depois da subida de preços do transporte coletivo e do petróleo, uma violenta revolta popular espalhou-se pelo país. Ônibus foram apedrejados e queimados, lojas foram saqueadas e uma série de distúrbios abriu caminho para uma tentativa de golpe liderada pelo então jovem militar Hugo Chávez. Era o princípio do fim para o presidente Carlos Andrés Pérez. Em 13 de abril de 2002, o local foi cenário de outra simbólica manifestação popular, quando os moradores desceram o 23 de Janeiro e cercaram o palácio Miraflores, exigindo o retorno do presidente Chávez deposto por um golpe.
O baile de salsa da terceira idade era promovido pelo estado. Uma das senhoras bailantes nos colocou em contato com a responsável pelo evento, Osiris Villanueva. Explicamos que éramos jornalistas e que tentávamos entender o que de fato estava se passando na Venezuela. “Na zona leste da cidade há distúrbios, mas, como vocês podem ver, aqui na zona oeste se mantém uma completa normalidade. Aqui se respiram a alegria e a paz que caracterizam os venezuelanos”, afirmou com zelo evangélico. Empolgadíssima, começou a explicar de uma tacada só todo o programa chavista montado para a terceira idade na região. Orgulhosa, contou maravilhas do programa que coordenava, num eloquente e estruturado discurso, que mais parecia propaganda política. “Temos aprendido graças ao grande homem que foi o comandante Hugo Chávez, que nos ensinou um plano da pátria”, disse, com pundonor.
Osiris nos levou ao coordenador do parque, Fausto Zamorano, jovem enérgico e articulado, que nos atendeu num pequeno e simples escritório, na administração do Alí Primeira. Na parede, atrás dele, pairavam os retratos de Chávez, Che Guevara e Maduro. Perguntamos o porquê da crise e do desabastecimento de comida e de medicamentos no país. “A mesma receita que aplicaram a Allende estão aplicando aqui: escassez de produtos de higiene e comida”, disse o jovem formado pela Universidade Bolivariana de Mérida, uma das escolas superiores criadas pelo governo chavista para atender aos setores populares tradicionalmente excluídos do ensino universitário. “A Venezuela é um país rico, com uma imensa reserva de petróleo, ouro e água. O imperialismo não quer perder controle sobre nós”, explicou.
Fausto nos convidou para visitar, dentro do próprio parque, a horta comunitária, um dos projetos voltados para enfrentar o desabastecimento de alimentos. Tomando um dos caminhos do arborizado e bem cuidado jardim, chegamos a uma grande horta, com mudas e criadouros das mais variadas espécies de frutas, hortaliças e plantas medicinais e decorativas, além de um engenhoso sistema de compostagem. O espaço era tão organizado e bem cuidado que se tivéssemos marcado a entrevista com antecedência pensaríamos que haviam arrumado tudo para a nossa chegada. Fausto explicou que ali as pessoas da comunidade recebem aulas de plantio: “A ideia é que os moradores aprendam a cultivar seu próprio alimento em casa ou em hortas comunitárias”. Para enfrentar o problema de escassez de comida, priorizar os gêneros originários da Venezuela também faz parte do programa. “Banana com ovo, por exemplo, é um ótimo substituto para o pão no café da manhã”, ensinou. Ao final da conversa, para mostrar que os chavistas não são somente sonhadores, pontuou: “Nós vamos defender a paz, mas, se em algum momento for necessário, temos meio milhão de coletivos preparados para defender a revolução”.
Deixamos o parque impressionados pela organização, articulação, paixão e entusiasmo dos funcionários chavistas. Atravessamos a rua e passamos por uma longa fila, perto de um ponto de ônibus. Um pouco à frente, decidimos entrevistar um homem que vendia bananas – já quase pretas de tão maduras – numa banca na calçada. Oscar Ávila, de 45 anos, já não tinha o mesmo brilho nos olhos e esperança: “Aqui a vida está muito complicada. A gente não encontra comida nos mercados. Não tem pão, farinha, macarrão. O pouco que tem é caro.” Mas por que não há protestos em Cátia, perguntamos. “Aqui, as pessoas que são contra não falam, encondem. Mas eu falo“, disse, destemido. Logo, nos demos conta de que a fila em frente se desmanchava rapidamente. Não era fila do ônibus, como pensáramos. Era a fila da padaria. Nos despedimos rapidamente do bananeiro e nos dirigimos à padaria.
Perguntamos a um passante o que havia acontecido. “Prefiro não dizer nada. Não quero me comprometer”, respondeu, esquivando-se, com um sorriso malicioso. “Merda!”, protestou uma mulher. “O arroz está a 8.000 o quilos e o pão voa”, disse a jovem senhora, que levara meia hora na fila, com um filho pequeno. Irritada, saía com as mãos vazias para tomar o ônibus de volta para casa, em outro bairro. Para puxar conversa com o atendente da padaria, pedi um sanduíche de pão com queijo. Enquanto ele respondia que não tinha pão, uma fornada de pão doce era despejada no balcão. Assim que soube que éramos repórteres, o dono se acercou. “O pão é o último recurso. Não há macarrão, nem arroz, nem farinha de milho para as arepas”, disse. Se as pessoas pedem mais pão de sal, por que fazer tanto pão doce, perguntei, inocente. “Recebo 450 quilos de farinha de trigo por dia, tenho que vender de tudo”, respondeu, falando alto e desviando o olhar. Um cliente ao lado explicou com menos ambiguidade: “Vende pão doce porque o preço não está regulado, então sobra mais dinheiro pra ele. Os padeiros dizem que há escassez de farinha… Isso dizem”, resumiu Nelson Almeida, pai de duas adolescentes, tentando manter alguma dignidade dentro de um terno cinza desconjuntado e uma camisa de colarinho roto. Costureiro de sapatos, de 58 anos, ele se resignou a comprar 30 unidades de pão doce por quase o dobro do que gastaria com o pão regulado. “Eu moro aqui e quase nunca consigo comprar pão na padaria do meu bairro. Vem gente de muito longe e o pão acaba”, reclamou. “O problema também são os ‘bachaqueros’. Se você andar ali na frente, já encontra pessoas vendendo pão na rua”, disse ele.
Outra lição fundamental de Venezuela é entender o que é bachaquero. São pessoas que compram produtos de preços regulados - e baratos - e os revendem depois, mais caros. Essa prática é ilegal, mas parece estender-se por todo o país e em todas as frentes, da grande indústria ao pequeno comércio. A palavra vem de “bachaco”, espécie de formiga, tanajura, conhecida por carregar folhas maiores do que o corpo. É como uma praga que corrói o sistema de preços regulados na Venezuela. “Os bachaqueros nas filas trabalham por conta de bachaqueros de colarinho branco, de muito dinheiro”, explicou Guiomar Caminos, escritor venezuelano.
De fato, logo na frente já havia pessoas oferecendo pão na rua. Como estava escurecendo, decidimos tomar um táxi para o hotel. “Os protestos são pra zona leste. Em Cátia não tem nada”, explicou o motorista, também morador do bairro. “Aqui tem gente que quer protestar, mas têm medo dos coletivos chavistas. Outro dia passaram mais de cem deles em motos de alta cilindrada. Muitos estavam armados. Eu vi”, acrescentou.
Na Venezuela, os produtos de primeira necessidade são subsidiados e tabelados: farinha de milho (principal ingrediente da arepa, o prato mais popular do país), farinha de trigo, frango, arroz, café, óleo, leite, detergente, produtos de higiene... Ou seja, o cidadão venezuelano tem direito a comprar esses itens por preços regulados. O problema é que, de um tempo pra cá, os produtos regulados começaram a sumir dos mercados. Em março de 2016, ao perceber que a escassez estava vinculada a desvios na linha de distribuição, o presidente Maduro inaugurou os Comitês Locais de Abastecimento e Produção, os famosos CLAPs. O cidadão se inscreve no sistema e tem direito à bolsa CLAP, no valor de 10 mil bolívares, que vem com azeite, arroz, açúcar, café, leite, detergente... Os CLAPs estão distribuídos pelas cidades do país, especialmente nas áreas mais pobres. Mas a realidade é que, após um ano, o programa não conseguiu acabar com a crise de escassez de alimentos e de medicamentos.
A Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo e a atividade produtiva do país acabou se resumindo praticamente à exploração do ouro negro. Ou seja, o país se tornou refém da oscilação do preço do combustível no mercado internacional. Não por acaso, a queda do preço do petróleo caiu como uma bomba sobre a economia do país: em 2012, o barril custava US$ 125 e agora beira os US$ 45. Embora digam que a maioria dos produtos industrializados é importada do Brasil, China, Colômbia, México ou Uruguai, no supermercado encontrei diversos produtos de marcas venezuelanas absolutamente desconhecidas para mim. O mesmo vi numa farmácia, onde encontrei cremes, shampoos, lenços de papel e pasta de dente produzidos na Venezuela. Só não tinha meu remédio de tireoide. “É preciso vir de manhã, cedinho, porque chegam poucas caixas e sai logo”, me recomendou o farmacêutico. Por sorte, me eximi desse périplo, pois achei a caixa de remédio na minha mala.
Três semanas na Venezuela: Diário de uma carioca na República Bolivariana - INÍCIO
Três semanas na Venezuela: Diário de uma carioca na República Bolivariana - Parte 2
Três semanas na Venezuela: Diário de uma carioca na República Bolivariana - Parte 3


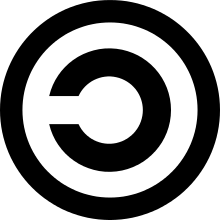 Copyleft. É livre a reprodução para fins não comerciais, desde que autor e a fonte sejam citadas e esta nota seja incluída.
Copyleft. É livre a reprodução para fins não comerciais, desde que autor e a fonte sejam citadas e esta nota seja incluída.
Comentar